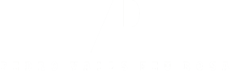Dos terrenos de marinha
Acaba de ser editada pelo Governo Federal a Lei 9.636, de 15 de maio último, publicada no Diário Oficial da União, do dia 18 seguinte, que dispõe sobre a “regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União”.
Conta com 53 artigos, todos eles recheados de minuciosas especificações e inúmeros detalhes.
Acontece que essa Lei, apesar das aparências, não revogou o Decreto-Lei 9.760, de 5 de setembro de l946, nem tampouco a volumosa legislação em torno dos chamados terrenos de marinha.
Por conseguinte, em vez de esclarecer e legislar sobre a matéria à luz da Constituição de 1988, veio aumentar a confusão em torno do tormentoso tema.
Dentre todas as suas deficiências, contradições e omissões, antes de mais nada, não define o que seja terreno de marinha.
Com efeito, a 14 de novembro de 1832, o Presidente interino do Tribunal do Tesouro Imperial, Nicolau Vergueiro, firmou a Decisão 348, com o seguinte teor: “Hão de considerar-se terrenos de marinha todos os que, banhados pelas águas do mar, ou dos rios navegáveis, vão até a distância de 15 braças craveiras para a parte da terra, contadas estas desde os pontos a que chega o preamar médio”.
Por seu turno, o Decreto-lei 9.760 estabelece, em seu artigo 2º que: “São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar médio de 1831: a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagos, até onde se faça sentir a influência das marés; b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés”.
Ademais, de acordo com o art. 3º do mesmo decreto-lei, “são terrenos acrescidos de marinha os que se tiverem formado, natural ou artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha”.
O primeiro e maior obstáculo que se antepõe à regularização do domínio útil dos terrenos e acrescidos de marinha é o fato de que em raros pontos do litoral brasileiro foi demarcada a chamada linha “do preamar de 1831”, não se sabendo, portanto, exatamente onde começa e onde termina essa faixa de terras de propriedade da União. Naquela época, provavelmente apenas na cidade do Rio de Janeiro tenha sido adotada tal providência. Tanto isso é verdade, que o legislador estabeleceu, nos artigos 9º e 10º do citado decreto-lei 9.760 que: “É da competência do Serviço do Patrimônio da União (SPU) a determinação da posição das linhas do preamar médio do ano de 1831 e da média das enchentes ordinárias” e que “a determinação será feita à vista de documentos e plantas de autenticidade irrecusável, relativos àquele ano, ou, quando não obtidos, à época que do mesmo se aproxime”.
Para ter-se uma idéia sobre essa ausência de demarcação, basta dizer que as primeiras observações sobre o movimento das marés, em Santos, foram realizadas pela Cia. de Docas, em fins do século passado. A propósito, o Eng. Lúcio Martins Rodrigues, professor de Astronomia, afirmou que, se prevalecessem os métodos técnicos do regulamento do SPU, Santos seria uma cidade constituída inteiramente de terrenos de marinha. No Rio de Janeiro, o referido critério demarcatório foi objeto de acirrados debates em 1905, no Clube de Engenharia, nos quais tomaram parte professores e engenheiros de renome, como Carlos Sampaio, Aarão Reis e Alfredo Lisboa.
Esses fatos corroboram o depoimento de um ex-Diretor do SPU, de que “o método demarcatório é mais ou menos arbitrário”.
No caso de Vitória, conforme um assessor da Delegacia do SPU no nosso Estado, a situação também é bastante complicada, pois, “o que não é terreno de marinha é agregado de marinha, dentro da mesma legislação. Então, os problemas são gravíssimos, e milhares de processos estão paralisados por falta de documentação”.
Durante muitos anos a União se contentou em cobrar pequenas taxas. Havia, pode-se dizer, o pagamento irrisório, ou mesmo simbólico, de uma prestação anual, e outra, em ínfimo percentual, por ocasião da alienação do bem. Por isso ninguém nunca reclamou, nem contestou a legitimidade dessa cobrança. Agora, no entanto, quando a voracidade do fisco aumentou exageradamente, a sociedade, alarmada e revoltada, exige uma definição em torno do assunto.
- Contesta-se a existência dos chamados “terrenos de marinha” frente à nova ordem constitucional. Há áreas em que, muitas vezes, já foram construídas casas e edifícios. Muitos edifícios de 4, 5, 10 andares, ou mais. Os proprietários podem dispor desses bens como quiserem – usufruir deles, cedê-los, alugá-los, vendê-los, doá-los, permutá-los e até destruí-los. Só não são donos da “nua propriedade”, como se diz em linguagem jurídica. Alega-se que a área tem que permanecer “terreno de marinha” para efeito de segurança nacional. É delirante imaginar que na hipótese de “segurança nacional” a União vai derrubar prédios de 10, 12 andares para utilizar uma área de 200, 300 metros quadrados.
Além disso, estamos em outros tempos. Ainda há poucos anos vimos que na chamada “Guerra do Golfo” os americanos colocaram imensos porta-aviões a 40 kms. da costa do Iraque e desencadearam tremendo bombardeio, através do qual morreram cerca de 280 mil iraquianos e apenas 34 americanos (sendo que a maior parte deles foi morta em acidentes, e apenas um ou dois em combate).
- Se a União finca pé e acha que precisa dos 33 metros no litoral, medidos da preamar máxima, que se estabeleça, então, que à medida que foram sendo feitos aterros, as terras que ficarem além desses 33 metros deixem de ser terrenos de marinha, passando para o Estado, o Município, ou para o particular que as comprou ou vier a comprá-las.
Trata-se, como se vê, no que se refere aos chamados “terrenos de marinha”, de um instituto anacrônico, medieval, inteiramente desajustado da realidade.