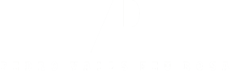Violência democrática
Há um caso ocorrido com a jornalista Darlene Menconi, que, de tão espantoso, merece ser destacado. Diz ela:
“Fui enviada aos Estados Unidos por “Isto É” com a missão de entrevistar um dos jovens milionários da Internet, o uruguaio Fernando Espuelas, presidente da Starmedia. Como o hotel só liberaria o quarto reservado para mim às três da tarde, deixei as malas no Paramount Hotel, na vizinhança dos teatros da Broadway, para passear a pé pela cidade. Depois de quase seis horas de caminhada, fui a um banheiro público. Ali fui surpreendida por uma policial vestida em jeans, camiseta, botas, jaqueta, rabo de cavalo e nenhum distintivo à mostra.
Aos gritos de “não se mexa”, “cale a boca” e “não perguntei nada, então não fale”, ela agarrou-me pelo braço, tomou minha bolsa e arrastou-me para a rua, onde me revistou e algemou debaixo dos olhares curiosos de uma pequena multidão aglomerada diante do banheiro feminino da Washington Square Park. Perguntei quem eram essa mulher e seus parceiros. A resposta: “Cale a boca”. Obedeci quando a policial ergueu a mão para bater em meu rosto.
Era o início de um pesadelo que se prolongaria por vários meses. Passei duas horas algemadas e sentada na parte traseira de uma van com apenas o assento dianteiro, sem identificação policial do lado de fora. Dali acompanhei a prisão de outros três homens, dois deles de origem latina, como eu. Na delegacia fui empurrada para uma cela fria, apertada e imunda. Algemados, os homens sumiram de vista, conduzidos por outro policial à paisana. Tentei mais uma vez identificar-me, em inglês fluente, como cidadã brasileira em visita profissional a Nova York. Inútil. A resposta foi um curto e grosso “não perguntei”. Dentro da cela, fui obrigada a despir-me, agachar-me três vezes e passar por uma constrangedora revista íntima.
Como espectadora de filmes de Hollywood, aguardava o momento de ser comunicada sobre meus direitos, entre eles um advogado, um telefonema e permanecer em silêncio. Assim como acontece com os excluídos no Brasil, não tive direitos perante os policiais nova-iorquinos. Nenhum dos quatro oficiais dirigiu a mim qualquer explicação sobre a brutalidade de suas ações. Muito menos, repetiu a ladainha obrigatória sobre minhas garantias legais.
Quase cinco horas depois da prisão ao ar livre, esgotada, fui coagida a assinar uma confissão de culpa por porte ilegal de drogas. Drogas que, aliás, eu não portava. A policial informou meu destino: era assinar o boletim de ocorrência, ou “ficar presa por um longo tempo”. Recusei-me a assinar. Ela me ofereceu um cigarro. Também não quis. “No seu lugar eu fumaria porque você está numa tremenda encrenca”, disse, antes de dar as costas e trancar a grade.
Deixou-me na cela escura onde havia uma cama de cimento, um vaso sanitário fétido e um frio de gelar o corpo por dentro. Apesar da pouca luz, pude enxergar acima da cama de alvernaria muitas palavras escritas com a mesma caligrafia – sinal de que alguém esteve ali tempo suficiente para rabiscar toda uma parede. Contei lentamente até 250. Esperei, esperei. Quando meu corpo inteiro já tremia de frio e nariz estava tomado pelo odor de esgoto, a policial voltou com meu alvará de soltura. Assinei a confissão de culpa, mesmo sendo absolutamente inocente. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas dessa vez não reclamei.
Ainda sem crachá, uniforme ou qualquer sinal que a identificasse como integrante do New York Police Departament, ela destrancou a cela e me acompanhou até a saída da delegacia. Esperávamos um táxi quando ela disse que minha prisão e humilhação públicas “não eram nada de sério”. Diante de meu desespero, aconselhou-me a passear pelos bares do Village, para “relaxar, ficar bêbada e curtir a noite de Nova York”. Também me avisou que dali a 40 dias eu teria de voltar para uma audiência criminal num tribunal americano.
Na manhã seguinte procurei o consulado brasileiro, de onde sai em direção a um escritório especializado em advocacia internacional. A angústia e a acusação contra mim duraram dois meses. Em fevereiro, os advogados contratados para me representar nos Estados Unidos receberam uma carta da Corte Criminal da cidade de Nova York. O documento comunicava que meu caso estva encerrado por falta de provas para sustentar uma acusação. Tarde demais. Desde então, acordo frequentemente sobressaltada, no meio da madrugada, falando em inglês. Daquele domingo em que fui presa no parque não resultou relatório. Sobrou apenas dor – e um processo judicial que abri contra a Polícia de Nova York, a chamada polícia do primeiro mundo” (Isto É, edição 1602, de 14.6.2000).
Estes fatos não ocorreram em Cuba, nem na China, nem no Iraque, nem na Rússia da época de Stalin, mas, desgraçadamente, na maior democracia do mundo, neste início de século e de milênio.